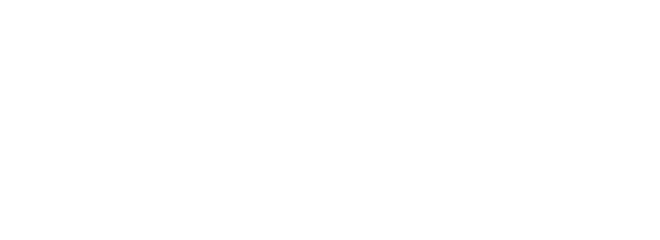Eu vi.
Não sei se aconteceu em 1800 ou 1900. Só sei que os homens andavam de terno, lindos coletes, chapéus em suas cabeças, alguns com bengalas. O nosso homem tinha chapéu, vestia preto, e tinha uma linda bengala, preta, com detalhes em prata (deve ser prata genuína), e um maravilhoso relógio de bolso. Tenho uma estranha atração por relógios de bolso. Um dandi eu diria. Ela vestia um vestido preto, luvas e um belo chapéu. Pelo volume do chapéu, e por estar acompanhada de um cavalheiro tão distinto, creio que não se tratavam de pessoas comuns. Ela era muito branca, mas não tão branca quanto o lenço em sua mão esquerda, que continha um fino bordado, talvez um monograma, não consigo ver direito, e um renda maravilhosa na borda. Tenho estima por rendas. Na mão direita segurava uma criança. Não consigo ver o rosto da criança, pois ela está cabisbaixa. Todos estão. Exceto o homem. Preto, definitivamente, não é uma boa cor para um vestido infantil, mas devo dizer que o contraste com a pele alva e as meias que lhe iam até a metade da canela, era algo que remetia a minha própria infância. Apesar de a mulher segurar sua mão, ela não retribuía de igual maneira. Acho que ela não entendeu.
Eu mesma demorei um tempo para entender o que era aquilo. Quem eram aquelas pessoas que eu nunca vi, isso eu nunca vou saber.
Eles estavam de frente para algumas lápides. Quando percebi isso passei a entender o clima. Eu nunca vi um cemitério assim. Havia 8 lápides, umas próximas as outras, e em volta delas havia uma espécie de mureta. Não é bem essa a palavra, mas imaginem o lugar das 8 lápides que estava circundado com sarjetas, aquelas de concreto, desse modo, elas seguravam a água, e criavam uma espécie de lago raso.
Na hora pensei na expressão “túmulo de água”, mas ela se aplica aos que estão no mar, que se afogaram, ou que tiveram seus corpos sepultados em alto mar. Não é o caso aqui, mas não consigo deixar de pensar nisso.
Eu tenho uma visão frontal delas. Estão de frente para a última lápide à esquerda. Ele se afasta. Ainda de frente para mim, ele tira a arma de dentro do bolso. Elas se viram para ele. Ela segurando a menina pela mão esquerda. Uma bala para a mãe e uma bala para a filha. Ninguém disse nada, nem antes e nem depois do tiro. Ele se virou, e foi calmamente embora. Não se preocupou com os corpos.
E nessa parte que fica tudo bonito. Na hora que elas caem no túmulo de água, porque, nessa hora, eu não as vi simplesmente cair. Na verdade eu só vi a mãe. Eu a via cair lentamente, como quem cai de costas num agradável e calmo lago, ela não vestia mais preto, branco, agora tudo ficou branco, uma leve camisola com babados, sem mangas, seus cabelos soltos, e elas se deixando cair lentamente, afundando cada vez mais dentro do lago. Na sua mão esquerda, um lírio d’água branco. Os cabelos balançando dentro da água. Olhos fechados, no mais profundo sono. Olhos abertos e água por todos os lados, turvando as nuvens e o sol da superfície. Uma dor no lado esquerdo a fez apertar o lírio com a mão. Pobre lírio! Ficou todo esmagado. Infelizmente, com não se é possível nadar, de um lugar tão fundo, com a mão fechada, ela soltou o lírio e nadou.
Nessa parte tudo fica feio e cinza novamente. Eu não mencionei no inicio, mas o céu era cinza, acho que tudo era meio acinzentado, talvez seja uma característica desse tipo de visão. Ela acordou, sua cintura sangrava, chovia muito, e a criança, agora pálida, estabelecia um contraste, que já não era mais tão belo, maior com seu vestido negro. E as meias, agora, estavam sujas de barro. Ela sangrou no peito.
Passei a estabelecer o vínculo de mãe e filhas entre elas, devido a cena que se segue. Não é algo que eu goste ver. Uma mulher segurando um corpo que há algumas horas estava sem vida, chorando, abraçando, beijando. Eu não podia ouvir nada. Mas imagino. Imagino por ter visto, e por que o meu desejo fazer alguma coisa. Mentira, eu nem sabia direito o que tinha acontecido.
“Acorda! Levanta! Abre o olho. Eu te imploro. Por favor! Alguém me ajude!” – Acho que seria mais ou menos assim. Ela bateu no rosto da criança. Não ficou vermelho. Acho que já havia algumas horas.
Agora vocês estão com vontade de parar de ler, por que não faz sentido ela ser atingida por uma bala e continuar viva. Então eu pensei nisso: será que ela estava morta? Ao que parece não estava. Então, depois de assistir a tudo, formulei a seguinte teoria: a bala pegou de raspão na cintura da moça, ela caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente, e o assassino vendo o sangue e os olhos fechados, foi embora tranquilamente. Para mim fez sentido.
Gostaria de saber quanto tempo ela ficou no túmulo de água. O fato é que ela acordou em meio a uma grande chuva. Eu teria saído de lá.
Mas eu não estava lá.
Ela levou a filha para debaixo de uma grande árvore, a direita das lápides, tirou o casaco, envolveu a criança, e ficou ali, um bom tempo, segurando a filha. Apertando e tentando proteger da chuva. Segurava as mãozinhas, colocando-as na palma da sua mão enluvada e as soprava para aquecer. Ela chorou muito. Acho que as lágrimas quentes teriam aquecido a criança se ela estivesse viva. Choveu por muito tempo, acho que a noite toda. Não sei ao certo, porque fiquei olhando o rosto dela, chorando, e quando olhei em volta, eu vi o dia raiando, e percebi que a chuva havia acabado. Então ela ajeitou a menina entre as raízes de uma árvore. Essa foi outra bela cena. A menina que antes parecia uma boneca, agora era uma: sem vida, pálida, sendo manuseada por uma mulher, ajeitando seus cabelos. Sua roupa, estabelecendo um diálogo sem respostas, e dando bronca por ter sujado as meias brancas. Por último o que pareceu ser uma recomendação para ficar ali, pois ela voltaria logo, e um beijo. Tirou as luvas e se foi.
Eu a via descer do pequeno cemitério que me parecia ser no alto de uma colina. Havia muito barro. Ela escorregou algumas vezes. Sua camisa, que já estava suja, agora estava cheia de lama, uma lama preta. Ela estava visivelmente com frio, e pálida, descabelada. Gostaria de saber onde estava seu belo chapéu.
No fim da descida havia um rio. Ela circundou o lugar um bom tempo, e não havia saída, só água. Lavou-se, e viu pela primeira vez o ferimento que doía tanto. Foi de raspão como eu previra. Este deve ser um daqueles lugares que se inunda durante certa época do ano. Ela ficou ali olhando, tentando ver a outra margem, se havia alguém. Particularmente para mim era um cena bizarra, pois eu não via nada, apenas a via.
Ela voltou, subiu tudo novamente. Segurou a criança outra vez. Não chorou mais. Durante a noite ela viu a menina caminhando e a chamou, mas quando ela se virou a criança a encarava, com um olhar de raiva, a palidez, a boca roxa e os olhos fundos não a assustaram. Tentou abraçar a criança, mas a mesma começou a gritar, e arranhar seu rosto, então a puxou para dentro de um dos 4 túmulos da fileira de trás. A menina foi praticamente engolida pela terra, e puxava o braço da mãe, que nesse momento percebeu a gravidade da situação, e começou a lutar, para manter-se fora do buraco. Acordou, bem na hora que teve sua cabeça puxada para dentro da cova.
Levantou-se, olhou a menina em seus braços. Ela havia entendido bem, e sabia agora a única coisa que poderia fazer. Colocou o corpo ao lado da árvore, mas não com o mesmo cuidado de antes. Foi até a lápida, na fileira do fundo, segunda lápide da direita para a esquerda. Não consegui ler o nome, ou o epitáfio. Talvez não houvesse nada escrito. Nada para ser dito.
A tampa de pedra que havia acima do túmulo estava quebrada, ela removeu as pedras, com a dificuldade daquelas que nunca pegaram nada mais pesado do que um bastidor de bordado. As mãos estavam sujas, as unhas também, algumas se quebraram durante a remoção das pedras. Ela cavou com as mãos, o mais fundo que pode, cerca de um metro. Veio-me a cabeça agora que a cova rasa não é exclusiva aos indigentes, se bem que em nossa posição, eu como observadora, e elas objetos de observação, não passavam de atrizes indigentes no palco da vida, sem nome, e sem voz.
Ela fez com calma. Os mortos não tem a urgência dos vivos. Deitou a menina no buraco. Saiu, havia algumas flores silvestres na descida, esmagadas pela chuva. Recolheu-as, foi até o rio novamente, que continuava igual. Olhou para baixo, e viu a criança na cova, e por um momento, sentiu o asco, que todo ser vivo sente diante de um cadáver, algo podre, seu próprio destino. Era hora de dizer adeus, ajeitou parte das flores ao redor da criança, nem assim a aparência melhorou. Um corpo não é uma boneca, e querendo ou não, este já estava se decompondo, era visível. Tratou de fechar o buraco. Ao fechá-lo lembrou-se do sonho. E por um momento, quando se ajoelhou aos pés da cova, sentiu medo de ser puxada. Estava sozinha.
Lembro-me de vê-la sentada sobre um dos túmulos. Cabelo solto, sujo, emaranhado pelo vento. Roupas esgarçadas.
Depois de tudo paro para pensar, o que mais me indigna em tudo isso, é o fato de ela não ter ficado com febre, ter pegado uma infecção e morrido.
Depois disso, eu a vi novamente, mas um tempo depois, velha, mas nem tanto, sem a beleza original, pele enrugada, cabelos grisalhos ensebados. Vestida de preto, mas dessa vez ela se arrastava pelos túmulos, como se estivesse saindo de um deles, ela me viu, e como um zumbi ansiando por um pedaço de carne, ou uma bruxa em busca de um sacrifício, ela correu até mim. Com suas unhas compridas ela segurou meu pescoço, eu lutei para me livrar daquela figura horrenda, os dentes serrilhados e podres, vindo em minha direção. Algo do qual eu não quero me lembrar, não quero vê-la novamente, não sei o que a transformou, mas talvez, durante todo esse processo, exista uma resposta. Essa foi a ultima vez que a vi, e a primeira que ela me viu.
Eu vi. De alguma forma aconteceu.
Esse artigo é uma colaboração de LivCat.